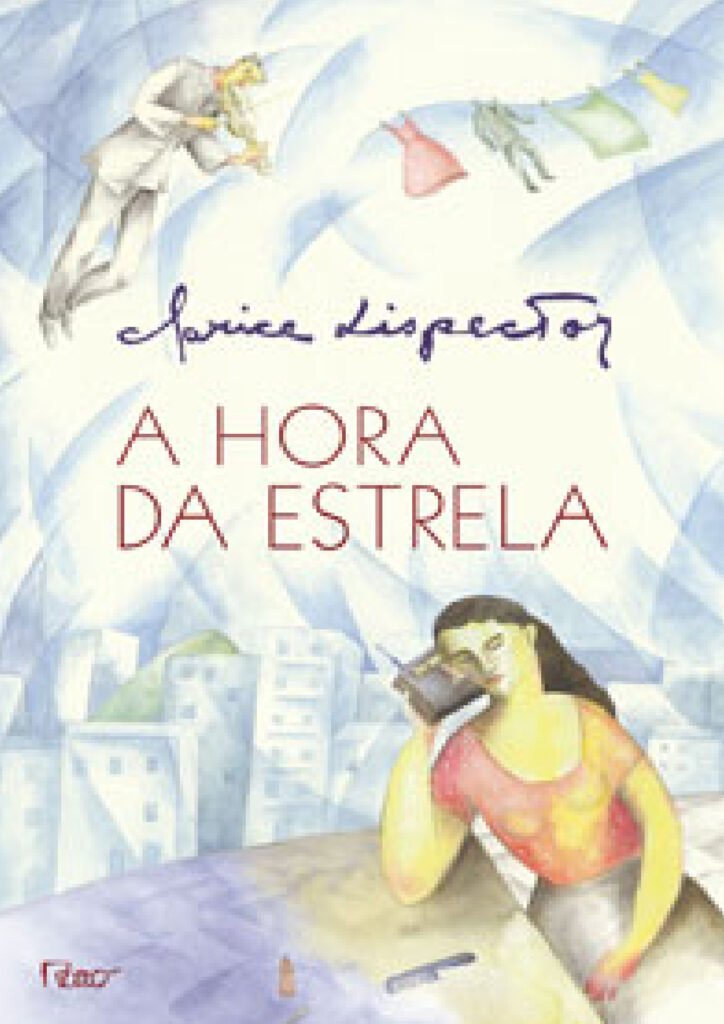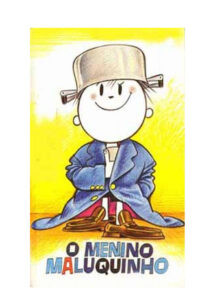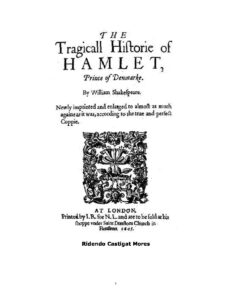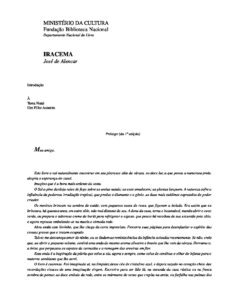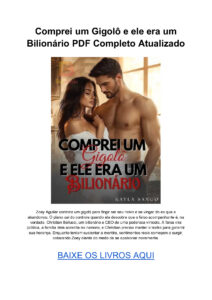A
A HHOORRAA DDAA EESSTTRREELLAA
CCllaarriiccee LLiissppeeccttoorr
HHOORRAA DDAA EESSTTRREELLAA
A CULPA É MINHA
OU
A HORA DA ESTRELA
OU
ELA QUE SE ARRANJE
OU
O DIREITO AO GRITO
QUANTO AO FUTURO
OU
LAMENTO DE UM BLUE
OU
ELA NÃO SABE GRITAR
OU
ASSOVIO AO VENTO ESCURO
OU
EU NÃO POSSO FAZER NADA
OU
REGISTRO DOS FATOS ANTECEDENTES
OU
HISTÓRIA LACRIMOGÊNICA DE CORDEL
OU
SAÍDA DISCRETA PELA PORTA DOS FUNDOS
AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO
Escrever estrelas (ora, direis)
Clarice Lispector deixou vários depoimentos sobre a sua
produção literária. Em alguns, parecia se defender do estranhamento
que causava em leitores e críticos.
Ela tinha consciência de sua diferença. Desde pequena, ao ver
recusadas as histórias que mandava para um jornal de Recife,
pressentia que era porque nenhuma “contava os fatos necessários a
uma história”, nenhuma relatava um acontecimento. Sabia também,
já adulta, que poderia tornar mais “atraente” o seu texto se usasse,
“por exemplo, algumas das coisas que emolduram uma vida ou uma
coisa ou romance ou um personagem”.
Entretanto, mesmo arriscando-se ao rótulo de escritora difícil,
mesmo admitindo ter um público mais reduzido, ela não conseguiria
abrir mão de seu traçado: “Tem gente que cose para fora, eu coso
para dentro”. Ela se afastou dos “escritores que por opção e
engajamento defendem valores morais, políticos e sociais, outros
cuja literatura é dirigida ou planificada a fim de exaltar valores,
geralmente impostos por poderes políticos, religiosos etc., muitas
vezes alheios ao escritor”, em nome de uma outra forma de
questionar a realidade e nela intervir, através da literatura.
Talvez sem o saber, Clarice estava optando por um tipo de
escrita característica do escritor moderno, para quem, no dizer do
crítico francês Roland Barthes, escrever é “fazer-se o centro do
processo de palavra, é efetuar a escritura afetando— se a si próprio,
é fazer coincidir a ação e a afeição (…)”. Por esta via, formula-se uma
outra qualidade de experiência envolvida na escrita, uma nova
perspectiva pela qual a linguagem é concebida: mais importante do
que relatar um fato, será praticar o autoconhecimento e o
alargamento do conhecimento do mundo através do exercício da
linguagem.
A hora da estrela leva esta proposta às últimas conseqüências
e por isso a sua leitura torna-se tão instigante. É certo que aqui
reencontramos a agudeza na investigação da natureza e psicologia
humanas e o gosto pela minúcia, patente no trato dado à palavra,
tão peculiares a Clarice Lispector. Mas se lermos o livro como hora e
vez, inserindo-o no conjunto de sua obra, constataremos que existe
algo de novo para além do insólito prefácio, em forma de dedicatória,
da frouxidão do enredo, da mescla de linguagem sutil com um tom
desnudo e cru ou, ainda, da intimidade com que o ch oque social é
apresentado. É que aqui a Autora aborda de frente o embate entre o
escritor moderno, ou melhor, do escritor brasileiro moderno, e a
condição indigente da população brasileira. Isto sem deixar de lado
— afinal de contas, traz a assinatura de Clarice Lispector — a
reflexão sobre a mulher.
A discussão se arma a partir de estórias que se entrecruzam,
como num acorde musical: a da vida de Macabéa, imigrante
nordestina que vive desajustada no Rio de Janeiro; a do Autor do
livro que, embora sem rosto definido, se dá a conhecer nos
comentários que faz; e ainda a estória do próprio ato de escrever. Em
verdade, esta última estória promove o grande elo entre todas.
Escrever o livro, escrever Macabéa e, sobretudo, escrever a si mesmo,
eis o grande desafio. Dessa proposta cria a dramaticidade da
narrativa, pois a escrita envolve múltiplas e complexas relações:
entre escritor e seu texto, entre escritor e seu público, entre escritor
e esta personagem tão distante de seu universo. A linguagem, moeda
de comunicação entre os homens, ganha foros de personagem. E
personagem em crise. Emergem indagações: a palavra que se usa
expressa o que se é verdadeiramente? é a linguagem que funda a
realidade? a palavra distancia ou aproxima pessoas? dispor da
palavra é um dom ou uma maldição? que palavra cabe ao artista
contemporâneo? que palavra se adequa ao escritor terceiromundista
para falar de um Brasil miserável? que papel se espera do artista?
Assim posto, o enredo, fugaz em aparência, revela algumas de
suas linhas de sustentação. Está em jogo a linguagem — seu poder
de conhecimento, de comunicação e de convencimento — e, com ela,
debatem-se a existência humana e os laços sociais. O patente
isolamento das pessoas parece conduzir a uma reflexão sobre a
condição do ser humano, agravada por um tipo de organização social
que segrega os indivíduos entre si. E o artista constata este exílio do
homem na própria terra, mas não tem respostas prontas que o
justifiquem. Esta inquietação o move, faz com que escreva e tente
descobrir na escrita a sua própria identidade e a sua própria
humanidade, cara a cara com as de uma outra qualque r pessoa. Em
A hora da estrela este empreendimento assume uma ou sadia e uma
profundidade inusitadas. O escritor solta as amarras e vai até o
fundo do poço: as origens do ser e as contradições da sociedade em
que vive. Para tal, tomando por base a linguagem, ele se dispõe a três
tipos de abordagem: filosófica, social e estética. Pela perspectiva
filosófica a os limites e alcances do conhecimento o mundo me diante
á palavra e a consciência, através das quais o ser humano se
distingue dos outros seres pela perspectiva social, investiga os
impasses criados pela separação dos indivíduos em diferentes
grupos, dando destaque à inserção do escritor e do nordestino na
sociedade brasileira; pela perspectiva estética, sonda o gesto criador
e o trabalho na busca da expressão que inaugure uma apreensão
original do real. Os três aspectos, é claro, apresentam-se de forma
imbricada no livro.
Pelo ângulo filosófico, a evidência de que as origens do ser se
perdem no tempo e de que é impossível voltar à época em que “as
coisas acontecem antes de acontecer”, leva o indivíduo a um estado
de perplexidade. Ao afirmar que “Tudo no mundo come çou com um
sim”, o narrador revela que sabe que as coisas se criam por um ato
de vontade e de afirmação.
Sabe, portanto, do modo pelo qual algo passa a existir. A
compreensão deste algo, no entanto, esbarra naquilo que o
antecedeu e que possibilitou a expressão de uma von tade,
possibilitou haver o não e o sim, para que, então, a escolha se
fizesse. Mais importante do que o modo pelo qual algo que não
existia ganha existência, há o problema fundamental da origem, do
começo de tudo, que se situa em uma ordem temporal inapreensível
pelo homem: “Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo
jamais começou.”
Assim, a pessoa se faz intermináveis perguntas e vive uma
série de faltas. A única “verdade” indiscutível são as existências
individuais. Intui, por certo, a identificação de todos em uma
unidade (“Todos nós somos um”), mas a unificação se mostra
principalmente pela carência (“e quem não tem pobreza de dinheiro
tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa
que ouro — existe a quem falte o delicado essencial”). Fica apenas a
constatação de que cada ser é um fragmento ou parte de algo. Daí
projetar-se, como sentido último da realidade, a realidade que
sempre está faltando. Mais dolorosamente ainda, existe a consciência
de cada um, advertindo sobre este vazio, e o empenho em transpô-lo.
A consciência aflora como atributo humano paradoxal : dá
instrumentos para se tentar responder a essas indag ações,
possibilita que se busque o sentido da vida e também desponta como
fonte de dúvidas, assinalando a ruptura de cada ser individual com
um modo de existência originário, em que tudo era um todo cheio de
harmonia. A consciência é condição de liberdade e,
simultaneamente, aprisionamento.
Esta nostalgia de uma integração total com o Cosmos confere
uma certa tragicidade ao projeto do narrador. Pois ao mesmo tempo
em que sabe que é um ser independente e gosta de sê-lo, anseia por
uma identificação completa com o outro, por uma comunicação
direta, sem obstáculos, o que acabaria anulando a s ua
individualidade, a sua autonomia.
A vivência de culpa, como se houvesse um erro fundamental a
ser sanado, desponta desde o primeiro subtítulo do livro — “A culpa
é minha” — e sempre retorna. É ela um dos sintomas deste
desgarramento do homem no mundo que, vendo cerradas as portas
de acesso à unidade originária, vai investigar, solitário, a dinâmica
de sua existência individual. A escolha de Macabéa, anônima,
“incompetente para a vida”, integra essa determinação, que inclui a
busca de regressão ao inumano (“Não se trata apenas de narrativa, é
antes de tudo vida primária que respira, respira, respira”) e a
expiação de uma possível culpa.
O narrador, perpassado por toda sorte de indagações sobre o
ser e o existir, atormentado pela incompletude e pela dualidade da
natureza humana para as quais as respostas são precárias, converte
a busca em sua única certeza. Daí decorrem pelo menos dois
movimentos centrais da narrativa.
Primeiro, como toda busca e toda pergunta são busca de algo e
pergunta para alguém, o narrador, para saber, tem de desdobrar-se,
tem de dialogar. Aquilo que, em uma situação comuni cativa banal,
passa despercebido projeta-se para o narrador como condição
essencial do ser: apreender a si mesmo inclui o confronto com o
outro.
Ao mesmo tempo, essa projeção traz implícito o retorno para si
mesmo, quando se tenta unificar em um único sujeito individual os
elementos que estão presentes nos outros seres do Universo. Entre
estes dois movimentos há uma tensão permanente no interior da
obra. O narrador mantém com seu interlocutor (seja ele Deus, o
leitor ou Macabéa) uma postura ambivalente de identificação e
afastamento.
Enquanto artista, aproxima-se de Deus, ambos criadores, e, ao
fazê-lo, de cena forma humaniza-O e diviniza a si mesmo. Ao mesmo
tempo, no entanto, Deus permanece enquanto figura abstrata,
dominadora que corporifica a idéia de totalidade e nisto constitui um
ente demoníaco, diante do qual o homem, condenado a se expressar
em palavras e fadado a morrer, se apequena (“Esse vosso Deus que
nos mandou inventar”). O leitor ora é alguém com quem se
solidariza, mesmo que na dor ou desamparo, ora é alguém de quem
quer distância. E Macabéa, se é nordestina como ele, dele se afasta
pelo abismo social que os separa.
Em meio à tensão entre homem e mundo é que surge o debate
em torno da palavra. Sendo o narrador um escritor, o diálogo será
mediado pela palavra. Só que, tal como a consciência, a palavra é
faca de dois gumes, pois ao mesmo tempo em que constitui um
instrumento de aproximação há o risco de a palavra do artista
“abusar de seu poder” e aniquilar a palavra de Macabéa. Disso
resultaria o fracasso dessa experiência ficcional, o que, no caso,
significaria o fracasso do seu projeto de escrever enquanto projeto
existencial.
Por tudo isso, A hora da estrela acha-se mergulhado no
desassossego da ausência de sentido de tudo e de todos. É um livro
de caça. O narrador-escritor está diante da morte de Deus enquanto
horizonte de sentido no homem e para o homem e, ao mesmo tempo,
padece da figura poderosa do Criador. Vai ele, então, vasculhar a sua
interioridade que, no entanto, sempre lhe escapa. Vai ele indagar o
sentido da existência de Macabéa e sua tosca manifestação de vida.
Nesta verdadeira viagem põe a nu a sua imagem de escritor e
denuncia a mentira de uma palavra transparente, “verdadeira”,
usada como forma de comunicação entre os homens e do homem
consigo mesmo. Essa trajetória aproxima Clarice Lispector de outros
escritores modernos, como Fernando Pessoa, que colocaram sob
suspeita a comunicação direta.
A perspectiva social vai assim se definindo. A reflexão sobre o
projeto ficcional em A hora da estrela será o meio pelo qual denuncia
as máscaras sociais que encobrem a crise fundamental do indivíduo,
alienado de si em rígidos papéis sociais. Escrever o livro é forma de
autoconhecimento (“Como que estou escrevendo na hor a mesma em
que sou lido”), levado às últimas conseqüências quando elege como
heroína alguém tão inexpressivo como Macabéa. Escrever implica em
desnudar-se e aceitar a dor envolvida neste processo; escrever
Macabéa significa enfrentar o desamparo na palavra que tenta
ajustar-se à essência da natureza do ser que constrói na forma de
personagem.
O narrador-escritor coloca desde o início o seu drama ao
afirmar: “sou meu desconhecido”. Para responder a esta falta de
sentido põe à mostra a sua condição de artista. Desmistifica o seu
lugar de pessoa eleita, “Antecedentes meus do escrever? sou um
homem que tem mais dinheiro do que os que passam fo me, o que faz
de mim de algum modo um desonesto.” ironiza a dificuldade de
inserção do escritor na sociedade, “Sim, não tenho classe social,
marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro
esquisito, a média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la,
a classe baixa nunca vem a mim,” desmascara o preconceito contra a
escritora mulher, “Aliás — descubro eu agora — também eu não faço
a menor falta, e até o que escrevo um outro escreveria.
Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem porque
escritora mulher pode lacrimejar piegas: e põe em cheque até mesmo
a importância de seu trabalho diante da manifestação de vida:
“(Quanto a escrever, mais vale um cachorro vivo)”.
A ironia empregada pelo narrador nos leva, no entanto, a um
outro aspecto, que a existência mesma do livro confirma: o crédito
atribuído à ficção como via de acesso à compreensão do mundo.
Outras passagens do livro também mostram que existe um outro
modo de narrar, mais difícil, por certo, mas que permite provocar um
novo olhar sobre a vida.
“ O seu método de trabalho configura-se como um ver dadeiro
ritual de iniciação (“Estou esquentando o corpo para iniciar,
esfregando as mãos uma na outra para ter coragem”), que consiste
em eliminar o supérfluo porque só assim poderá captar “as fracas
aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela”. A sua
atitude diante de Macabéa tem continuidade na atitude diante da
linguagem. Para falar da moça terá de “não fazer a barba durante
dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco”, vestir-se “com
roupa velha rasgada” tudo para se no nível da nordestina”. Ao
travestir-se não pretende ocultar-se em disfarce, mas fazer de si um
terreno propício para que a voz e a presença de Macabéa ganhem
existência sem traição, mesmo sabendo que corre o risco de uma
perda de comunicação nos moldes canonizados.
Vê-se, portanto, que o narrador-escritor tece um paralelo entre
uma certa postura física, espiritual e ética e a postura diante de seu
instrumento de trabalho, a palavra, que “não pode ser enfeitada e
artisticamente vã, tem que ser apenas ela”. Para tal, opõe a palavra
sem sentido, alienada ou ilusória, que ele descarta, e a palavra-
expressão, nomeadora: “Mas ao escrever — que o nome real seja
dado às coisas. Cada coisa é uma palavra”. A hora da estrela
consiste em uma verdadeira peregrinação da escuta e da fala, ao
longo da qual o escritor tenta construir, a partir do limo de uma
pessoa-formiga (Macabéa) e de sua própria pessoa-gigante-de-
consciência, uma estrela-pessoa e uma estrela-palavra. Assim, uma
pessoa rala e muda é recolhida pelo olhar arguto de um escritor
desorientado que, conduzido pela palavra e desconfiando dela, dá
uma forma e um destino a si próprio e à moça nordestina. Essa
busca faz com que fixe duas metas aparentemente con traditórias: a
simplicidade em uma história que se quer “exterior e explícita, sim,
mas que contém segredos” e a aproximação entre palavra e silêncio.
O narrador-escritor, tal como o poeta francês Baudelaire
vagando pelas ruas de Paris, vã no deserto da cidade do Rio de
Janeiro a decadência do ser humano através de Macab éa,
representante das “milhares de moças espalhadas por cortiços” que
“não notam sequer que são facilmente substituíveis (…)”. Como
Baudelaire, ainda, sente-se atraído por esse mundo sórdido e
precário. O artista será aquele que vê por detrás das máscaras, que
se inclui nessa sociedade cruel e aniquiladora e que se compraz na
denúncia. Os alvos favoritos serão os leitores, Deus e todo o
ambiente agressivo em que se vive e do qual normalmente se desvia o
olhar. Nessa perambulação constata que algo poderia ter vingado,
mas não vingou, o que é dito no livro, por duas vezes, de uma
maneira que nos faz lembrar o verso conhecido de Manuel Bandeira,
em seu Pneumotórax: “Experimentei quase tudo, inclusive a paixão e
o seu desespero, E agora só queria ter o que eu tivesse sido e não
fui.” (p. 36), “A gargalhada era aterrorizadora porque acontecia no
passado e só a imaginação maléfica a trazia para o presente,
saudade do que poderia ter sido e não foi (p. 48).
Na primeira vez, refere-se ao escritor; na segunda, a Macabéa.
Por aí pode-se inferir que essa vivência não está restrita a uma
realidade particular, e sim coletiva. Com uma perspectiva mais
ampla até, porque tem como pano de fundo o encontro do mundo e
seu Deus. A ousadia do desmascaramento se reflete também na
meticulosidade com que o grotesco e a feiúra de Macabéa são
tratados. O escritor a descreve “de ombros curvos como os de uma
cerzideira”, com “o corpo cariado”. Era “uma acaso, um feto jogado
na lata de lixo embrulhado em um jornal”.
O interesse pelo feio e pelo grotesco é mais um dado de ligação
desta obra com a tradição da modernidade, que não trata o feio
apenas como elemento cômico, de inferioridade moral, mas eleva-o
ao plano dos valores metafísicos. Coisa incompleta e discordante, o
feio afirma o fragmentário da vida. Macabéa, “ matéria orgânica é
exemplo concreto da existência ara o Nada, sobretudo porque expõe,
apenas com maior evidência, uma ausência de sentido que atinge a
todos. O escritor tenta penetrar nessa feiúra extrema no intuito de
recobrar o que ela ainda guarda de estrela, de idealidade. O grotesco
vem exprimir o encontro violento do divino com o diabólico. O autor
procura “danadamente achar nessa existência pelo menos um
topázio de esplendor”(grifo nosso), algum brilho que irá avivar o
contraste, e insuficiência do real.
Macabéa, em tudo e por tudo, é o oposto do herói épico. Sua
trajetória e vida aponta para a inviabilidade dos grandes feitos na
sociedade moderna. Retomando um conceito do crítico alemão Walter
Benjamin, pode-se afirmar que ela sequer teve uma experiência de
vida que a memória um dia pudesse ou soubesse resgatar. No
máximo um canto de galo faz com que só lembre da terra da
infância, mas este também é um território espúrio. Proveniente de
um meio rude, órfã de pai e mãe, criada a pancadas pela tia,
Macabéa não teve propriamente uma história pessoal. Felicidade
para ela é um conceito oco. De índole passiva, torna-se presa fácil
dos mitos e produtos da indústria cultural. Admira as grandes
estrelas do cinema e sente-se fascinada pelos anúncios publicitários.
As notícias descosidas da Rádio Relógio integram este contexto
alienante, dentro do qual o cotidiano se faz em um tempo meramente
físico, desprovido de uma ação subjetiva que com ele interaja numa
proposta de transformação. Inexiste passado; inexiste projeto futuro.
O quotidiano de Macabéa confirma, em cada detalhe, a sua
inabilidade e seu despreparo para o enfrentamento mais elementar
diante das dificuldades inerentes à vida. Pouco habilitada para o
trabalho; fracassa também no amor. A sua única conquista amorosa,
o desajeitado Olimpo, foge-lhe das mãos como água. Quando já
parece esgotada a denúncia de sua fragilidade, mais um pormenor
desponta como se, boneca animada, Macabéa estimulas se as forças
negativas do mundo, acentuando o seu lugar de vítima, até o
desenlace trágico do atropelamento. A estória de Macabéa se resume
à sobrevivência quase inumana, pois, para tudo o que se sente e
deseja, não dispõe de palavras para expressar.
Assim; o testemunho mais veemente de sua falta deposse sobre
si mesma e sobre o mundo é a maneira como lida com a palavra. Ou
ela se priva da palavra e permanece em um silêncio que não é opção,
mas maneira precária de ser (em oposição ao silêncio enquanto
momento de linguagem, de que fala Sartre); ou ela fala em
dissonância. Sempre se expressa inadequadamente ou mostra
interesse por palavras e conceitos reveladores de sua condição
existencial e social mas que, descontextualizados, não a levam ao
autoconhecimento, e que lhe vale a magia secreta que termos como
designar, mimetismo, efeméride, renda per capita, conde se somente
despertam nela uma curiosidade infantil? O próprio nome adverte
ara um contrasenso, pois ela em nada se aproxima da índole heróica
dos macabeus, povo guerreiro na história dos hebreus.
A perspectiva estética vem a propósito de evitar o falseamento
da realidade. O narrador-escritor escolhe uma nova maneira de olhar
e uma nova postura diante do narrar, indicadas no livro como
distração e flash fotográfico. Em ambos destaca-se a idéia do relance,
de uma súbita visão que desarma, permitindo que se apreenda algo
que resiste a ser descoberto, As analogias entre palavra e sonho,
pedra e silêncio vão na mesma direção.
Os sonhos deixam fluir “a penumbra atormentada” —
atormentada porque toca na verdade, que “é sempre um contato
interior e inexplicável”. A aventura paradoxal dessa ficção consiste
em pôr às claras algo que se caracteriza pela obscuridade. Para
conseguir a integração entre …